Dona Ermira é a mulher mais solidária do mundo. Se receber uma ligação da prima da irmã da tia da vizinha, que não vê há três décadas, informando que a menina está hospitalizada, Dona Ermira organiza a bolsa, bota alguns poucos pertences e se hospeda no hospital, para acompanhar o caso. É uma mulher de 60 anos, meio gordinha, com um eterno sorriso de canto a canto do rosto.
Dona Ermira outro dia recebeu um telefonema. Uma prima tinha morrido, o enterro estava marcado para aquela manhã. Ela ficou triste imediatamente, telefonou para a irmã, Beta, e avisou:
“Temos que ir ao enterro da nossa prima!”.
Na porta do cemitério, encontraram duas pessoas conhecidas. Começou aquela conversa sobre as qualidades da falecida. Daqui a pouco, ela escuta o chamado de um desconhecido.
“O enterro está saindo!”.
“Vamos, Beta”.
As duas foram, naquele passo silencioso, cercado de murmúrios, que marcam qualquer enterro. Antes de ser colocado no túmulo, o caixão ficou um tempo fechado, para as últimas despedidas. Dona Ermira se aproximou, muito triste, chorou um bocado, lembrou da prima de muitos anos atrás. Alisou a tampa do caixão, num gesto de carinho, mas nem olhou direito para o rosto da prima, que não via há muitos anos.
Dona Ermira só estranhava uma coisa. Cada vez que levantava a cabeça, não conseguia encontrar uma pessoa conhecida.
“Ermira, acho que não é aqui não”, sussurrou Beta duas vezes. "Não estou vendo ninguém conhecido"
E tome lágrimas!
Lá pelas tantas, a própria Dona Ermira resolveu tirar a dúvida. Olhou para um senhor grave, de paletó e óculos escuros:
“Aqui é o enterro de quem?”
O homem grave informou o nome de uma pessoa que ela nunca ouvira falar.
“Vixe, Beta, não é aqui não!”, disse Dona Ermira em uma voz mais alta que o necesário, enxugando as lágrimas. Sabe-se que houve um murmúrio geral entre os amigos e parentes da falecida em questão. Quem era aquela intrusa?
As duas olharam ao longe. Do outro lado do cemitério, estava sendo realizado outro enterro. Apressaram o passo.
Ainda deu tempo de ver os parentes jogando areia no caixão da prima. Dona Ermira foi abraçada pela irmã da prima.
"Ermira, pensei que você não vinha!".
Ela ficou sem jeito em dizer que estava chorando suas pitangas no enterro errado.
Ao lado, Dona Beta não conseguia segurar o riso.
Essa minha mãe é fogo!
Espaço para crônicas das mínimas coisas. Estuário é o lugar de encontro do mar com o rio, uma das regiões mais férteis do planeta. Salgado e doce se misturam, como o suor e a saliva. É a desembocadura de um rio, que pode ser muito bem o Capibaribe, que atravessa o Recife, cidade onde vive o autor dos textos, Samarone Lima.
segunda-feira, 31 de julho de 2006
sexta-feira, 28 de julho de 2006
Monte Castelo, lembranças e flores de plástico
| Não, não se trata de nenhuma referência às batalhas do Brasil na II Guerra. Até onde eu sei, foi em Monte Castelo que os pracinhas, os soldados brasileiros, mandaram ver, ganharam umas pelejas contra os alemães, na base do drible de corpo, improviso e vontade. O Monte Castelo é o bairro aqui de Fortaleza, onde morei até os 18 anos. Ontem, fui dar umas voltas pelos quarteirões que fizeram parte da minha adolescência, e só ao final da jornada, depois de algumas conversas, e surpresas, com poucos vizinhos me reconhecendo, entendi o fenômeno do tempo: já se passaram 19 anos, desde que embarquei para o Recife. Primeiro encontrei o Tóya, que nunca soube o nome, com quem tive uma briga monumental, lá pelos 14, 15 anos. Briga monumental não, houve uma confusão, ele saiu correndo atrás do meu irmão, o Tonho, eu corri atrás do Toya, ele se virou, me acertou um tabefe de primeira, e voei para trás. Acabou em uma fração de segundos uma de minhas poucas brigas de rua, porque caí para trás e ficou por isso mesmo. O Toya me abriu um grande sorriso, ontem, falou da vida, quis saber de mim. Nem sei mais se foi com ele mesmo que briguei. Lembro sim, foi com ele, cheguei em casa com um enorme calombo na cabeça. Segui, camundongamente, olhando as casas. Por conta da violência, todos os muros são altos, e prolifera aquela cerca de arame, com o aviso “Perigo, corrente elétrica”. Aqui na casa da minha mãe tem essa cerca. Se alguém tocar, dispara um alarme. Custa R$ 150 mangos por mês, uma espécie de aluguel extra. O bairro está soturno, triste. Semana passada, mataram o dono de um pequeno comércio, um negócio brutal. É igualzinho ao Recife, com assalto a todo instante. Estou escapando na base do silêncio. Quando vem um assaltante, finjo que não é comigo. Passei pela casa de Seu Nonato, havia uma pequena conversa de senhoras. Reconheci a mulher de Seu Nonato, falei, ela me olhou longamente, pensando que eu era algum missionário. Uma senhora de cabelos claros matou a charada: “Mas...não é o Samarone?” “Menino, como está diferente...” “É essa barba...” Pela primeira vez, falaram mais da barba, que dos cabelos. Ficamos conversando, repassando os assuntos. Seu Nonato morreu há uns dois anos. No lugar do seu bar, tem agora uma academia de ginástica. O Charlon, nosso velho cantor do bairro, que ficava na esquina puxando lindas canções em seu violão, outro dia foi acertado por um delegado aposentado da Civil. Tomou cinco tiros, o velho Bilonga, como o chamávamos. Mas escapou dessa. Fazia mergulhação e tinha uma apnéia de quatro minutos, me explicou sua irmã. Quatro minutos debaixo d´água, é mesmo muita resistência. Sobreviveu bem. O Charlon é pastor evangélico em alguma cidade do interior. Nunca imaginei que o nosso Bilonga fosse ser pastor. Sempre o vi cantando as músicas de Ednardo, Fagner etc. Quiseram saber de mim, contei que era jornalista, que estava no Recife, a irmã do Charlon teceu os melhores elogios à nossa Veneza Brasileira, contei que eu estava gostando mais de ensinar, que não sentia muita saudade das redações de jornal. A prosa rendeu, estava quase saindo uns biscoitos ao forno, mas não deu para esperar, eu tinha que fazer mais reconhecimento do terreno, fui cheirar o ar que já foi o meu, buscar os velhos habitantes. À noitinha, bati pernas com Pepo (amigo dos bons tempos do 7 de Setembro), sua filha Amanda, Neto (meu companheiro de um período que eu jurava ser maratonista) e Carlinhos, amigo da nova safra. Passeamos pelo calçadão da Praia de Iracema. Meu deus, Fortaleza está inundada pelo turismo sexual! Em todo canto, o mesmo movimento de gringos enlouquecidos, moreninhas com roupas minúsculas, e a promessa dos euros rondando pelo ar. Não tive tempo de ficar deprimido, com as conversas do Neto e do Pepo, contando as presepadas da turma. Mais tarde, em casa, assistindo Páginas da Vida com minha mãe e o Neto, o assunto do tempo foi voltando na minha cabeça. Olhei para minha mãe, com 60 anos. Está envelhecendo. Os cabelos brancos saem por toda a cabeleira, está mais gordinha, mais cansada, mas com aquela beleza de sempre. Queria que ela trabalhasse menos, tivesse mais descanso, mas é auxiliar de enfermagem, começou a trabalhar tarde no ramo, e os plantões tomam parte de sua vida. Hoje, fomos ao cemitério, dar um olá à minha avó Zeneuda. Ela está enterrada no mesmo túmulo de tio Ademar. Ficamos em silêncio, rezamos um pouco, depois acendi um incenso. “Ontem foi o dia da Avó, sabia?”, me disse minha mãe. Eu não sabia, mas era como se soubesse. Depois, visitamos o túmulo de minha avó materna, Waldelice. Em todos os túmulos, haviam flores de plástico. Estranhei, mas parece que são ordens do cemitério, eu sei lá, essas modernizações esquisitas. Resistem às chuvas, não morrem nunca, o cemitério fica todo coloridinho, mas não gostei nada. No final das contas, são de plástico, não fenecem, não têm a grandeza do precário, não vêm com o cheiro de tantas gerações de flores se perpetuando. Tenho certeza que minha avó preferiria flores de verdade. No domingo levarei umas, na base do contrabando mesmo. Vai ser ótimo. Eu sempre quis ser um contrabandista de flores. |
quinta-feira, 27 de julho de 2006
Na estrada e as coisinhas de família
| Boto o pé na estrada novamente. Destino: fortaleza, onde vive grande parte da família. Há quase três anos não visito a terrinha. Agora, outras demandas. Minha mãe pensa em vender a casa, se mudar para um lugar mais seguro. A violência vai recompondo geografias, esvaziando bairros, mudando trajetórias. Venho tentar ajudar em algo. No ônibus, uma cambada de cearenses. Eles trabalham em algum estaleiro do Recife. Cada parada, o assunto é somente um: tomar uma gelada. Com o sotaque bem carregado, eles imitam os pernambucanos, fazer gozações. Eu, que tenho herança das duas culturas, finjo anotar algo sério e registro as conversas. “Rapaz, o pernambucano gosta mesmo é de matar mulher...” “E eu não sei? Só esse ano, já mataram umas 160”. “Os cabras não gostam de mulher não. Desse jeito, não vai sobrar uma”. “É que pernambucano tem sangue ruim, sabia? O PCC chega por lá, eles matam logo, não dá nem tempo se enraizar”. “Não, macho, mataram foi umas 180 mulheres, só esse ano”. Um dos cearenses chama outro, que está na parte da frente. “Ei Jacuné, vem cá. Vem cá, macho, conversar com a gente. Conta uma história pra gente...” (Jacuné não vem) “Cearense não bate fofo não”. (Não entendi. A frase saiu do nada). “Não tem essa não. Chegou, é partir pra cima, papai”. (Lembrei do meu amigo Marcelo Barreto, com essa história de “papai”) “Mulher que chora quando o cara viaja, bota gaia”. “Pois quando eu sair de casa, vou descer a lenha e dizer – te cala, mulher!” “ô putaria, macho”. Chego à velha rodoviária de Fortaleza, não há ninguém à minha espera. Minha mãe não sabe que cheguei. Minha irmã vem me buscar. Está com 25 anos. Quando saí de casa, tinha 12. Vai ser advogada. Conta as novidades. Chego em casa, a mesma casa em que morei tantos anos. A outra irmã, Patricia, está com 23, passou no Vestibular para Turismo. Vejo a casa, vou à biblioteca. Sobram poucos livros. Cada vez que venho, levo mais alguns exemplares, todos empoeirados. Sou um traficante confesso de livros. Lá pelas tantas, chega a minha mãe. Toma o susto com minha chegada, mas está feliz. Vejo seus cabelos brancos. Chegou aos 60 anos. Almoçamos em Ciço, aqui perto, conversando sobre a vida. Ela quer saber de tudo. O trabalho, a vida, enfim. Pela primeira vez na vida, não diz que estou com os cabelos secos. Trouxe a matéria que saiu no Diário de Pernambuco, domingo, falando de um livro que estou terminando. Ela pega a cópia, exultante. Olha logo se tem a foto. Se não sair a foto, ela se chateia muito. “Vou mostrar às minhas amigas no Hospital”. Ela é auxiliar de enfermagem. Antes de sair para o trabalho, ela pega um isonor pequeno. “Para que é isso, mãe?” “Eu compro dindim e levo para as minhas colegas. Elas adoram”. Dindim, no Ceará, é a mesma coisa que “dudu”, no Recife. Quem não conhece, teve uma infância meio manca. Mas essa é a minha mãe, uma senhora de 60 anos que está sempre sorrindo, mesmo nas maiores quedas, e leva dindim para as amigas do Hospital. Até segunda-feira, aproveitarei essas coisinhas lindas da vida. |
terça-feira, 25 de julho de 2006
Diferenças culturais e outras leseiras
Toda vida que falo que sou pernambucano, minha mãe fica arretada comigo, mas só a construção da frase deste início de crônica, diz para onde anda o rumo da minha prosa. Um cearense típico não usa esse "arretado" assim, do nada, bem como outras tantas palavras que incorporei à minha fala cotidiana e minha vida, visse? A sorte é que minha mãe lê muito pouco o meu Blog, e meu irmão mais velho, leitor assíduo, o quase quarentão Paulinho, também não é mais tão cearense assim. Tem passagens por Carpina, quando iludiu a família, dizendo que iria ser padre (eu sabia que era mais aventura mesmo, mas não contei a ninguém), e aterrisou pelas terras mineiras, onde vai tocando mansamente, mineiramente, seu mestrado, perdão, já é doutorado. Informo que brevemente teremos um doutor na família.
Mas voltando ao tema, o fato é que o Recife se tornou minha pátria espiritual. Gosto do jeito que as pessoas falam, do jeito de andar, dessa confusão que rola por aqui, apesar de estar ficando já perplexo com a violência e a ruindade da Polícia, coisa para uma longa prosa. Sinto saudades das conversas familiares, onde algo poderia estar "tinindo" (ou seja, "pegando fogo"), e lamento que a batida de carro, por aqui, não seja chamada carinhosamente de "barruada", porque a palavra barruada é muito mais a cara de dois veículos se chocando, na Rui Barbosa, do que uma batida, que sugere algo menor.
Passei muita vergonha logo no primeiro ano no Recife (1987), porque trabalhei numa empresa que vendia vidros, prateleiras, produtos para boutiques, com destaque para a enorme quantidade de cabides negociados. Lá vou eu, na santa inocência dos meus 18 anos, perguntar ao dono da empresa quanto era o preço da "cruzeta". Sinceramente, os pernambucanos "arrearam" com a minha cara, tiraram o couro mesmo, foi uma gréia generalizada, passaram semanas chamando cabide de cruzeta, mas até hoje tenho simpatia pela frágil figura da cruzeta. Foi neste singelo momento que descobri diferenças abismais entre pernambucanos e cearenses.
A comida aqui não era cozida, mas guisada, e ficou assim mesmo, fui aprendendo a não ficar brigando com o pernambuquês e o cearensês. Para sobreviver razoavelmente, adotei a política da boa vizinhança. Quando chego em Fortaleza, vou logo dizendo "égua, macho, tu tás é forte", para um amigo que engordou muito, e nem preciso perguntar, porque sei que minha mãe já preparou o baião de dois com pequi. Se algum amigo tomar umas canas de entortar o juízo e fizer suas presepadas, já sei que o Neto vai dizer:
"Meu irmão, o cara botou o maior boneco".
Apesar de ter nascido no Crato, morado em Brejo Santo, Imperatriz, Pentecostes, Fortaleza, Recife, São Paulo e Recife de novo (ufa!), tenho somente uma dificuldade existencial, que é a do forró eletrônico, que rola em cada esquina de Fortaleza. Sei que aqui no Recife tem o brega, aquele diabo daquele teclado fazendo a introdução de alguma música que vai falar de cornura e raparigagem, fora as cenas de sexo, com a mulher sendo sempre objeto, mas em Fortaleza algo me deixa nervoso, para não dizer desesperado: são os carros particulares, com alto-falantes imensos, máquinas potentes e devastadoras.
A regra matemática é a mais simples do mundo: quanto mais alto o som, mais imbecil o sujeito. E é aquele tipo de imbecil que dói nos nervos, o de classe média alta, arrumadinho, engomadinho, estúpido até os dentes, e que tem um carrão com um som potente.
Você pode estar num bucólico, singelo, pacato boteco, tomando sua cervejinha, pensando nas besteiras que fez e que deixou de fazer, anotando as providências e urgências para o amanhã (urgência para hoje cansa), aquele silêncio pacato e misterioso da vida, você quase faz uma prece para agradecer aquela tranquilidade que o momento pedia, quando chega um sujeito, abre a tampa do bagageiro e manda ver, um "Aviões do Forró", "Caldinha Preta", coisas do tipo. Detalhe: tem que ser numa altura máxima. O prazer sexual do sujeito é mostrar que tem um som muito potente. Dizem que Freud explica, se não explicar, é porque é meio burrinho mesmo, porque até eu explico.
Isso é muito normal na minha querida Fortaleza, ninguém reclama, faz parte da cultura, e não vou ficar brigando com todo mundo. Fico arrasado, fecho meu caderno, pago a cerveja e vou me embora, fico logo com saudades de Vital, o silencioso boteco de esquina aqui do Poço, onde você escuta, no máximo, as discussões dos nossos confrades, e os gritos às vezes irritados de Juca e Dudu, dois singelos papagaios.
Bem, vou ali, arrumar minhas roupas para a viagem. O motivo da crônica de hoje é somente falar do meu retorno às origens, depois de uns três anos sem ir a Fortaleza. Gustavo me disse, outro dia, que começo a escrever sobre uma coisa, e passo a falar de outra, com a maior naturalidade do mundo. Eu deveria ter começado informando que hoje viajo a Fortaleza, e deveria fazer umas comparações culturais, mas acabei me enrolando, perdio o fio da meada, e fica por isso mesmo, que isso aqui não é um curso de lógica.
Como a camisa do Santa Cruz vai comigo, e pretendo usá-la no domingo, em Fortaleza, antes de embarcar de volta para ver Santa x Corinthians, vocês devem entender o que estou falando.
Para o Neto, meu velho amigo de Monte Castelo, o bairro que morei dos 10 aos 18 anos.
Mas voltando ao tema, o fato é que o Recife se tornou minha pátria espiritual. Gosto do jeito que as pessoas falam, do jeito de andar, dessa confusão que rola por aqui, apesar de estar ficando já perplexo com a violência e a ruindade da Polícia, coisa para uma longa prosa. Sinto saudades das conversas familiares, onde algo poderia estar "tinindo" (ou seja, "pegando fogo"), e lamento que a batida de carro, por aqui, não seja chamada carinhosamente de "barruada", porque a palavra barruada é muito mais a cara de dois veículos se chocando, na Rui Barbosa, do que uma batida, que sugere algo menor.
Passei muita vergonha logo no primeiro ano no Recife (1987), porque trabalhei numa empresa que vendia vidros, prateleiras, produtos para boutiques, com destaque para a enorme quantidade de cabides negociados. Lá vou eu, na santa inocência dos meus 18 anos, perguntar ao dono da empresa quanto era o preço da "cruzeta". Sinceramente, os pernambucanos "arrearam" com a minha cara, tiraram o couro mesmo, foi uma gréia generalizada, passaram semanas chamando cabide de cruzeta, mas até hoje tenho simpatia pela frágil figura da cruzeta. Foi neste singelo momento que descobri diferenças abismais entre pernambucanos e cearenses.
A comida aqui não era cozida, mas guisada, e ficou assim mesmo, fui aprendendo a não ficar brigando com o pernambuquês e o cearensês. Para sobreviver razoavelmente, adotei a política da boa vizinhança. Quando chego em Fortaleza, vou logo dizendo "égua, macho, tu tás é forte", para um amigo que engordou muito, e nem preciso perguntar, porque sei que minha mãe já preparou o baião de dois com pequi. Se algum amigo tomar umas canas de entortar o juízo e fizer suas presepadas, já sei que o Neto vai dizer:
"Meu irmão, o cara botou o maior boneco".
Apesar de ter nascido no Crato, morado em Brejo Santo, Imperatriz, Pentecostes, Fortaleza, Recife, São Paulo e Recife de novo (ufa!), tenho somente uma dificuldade existencial, que é a do forró eletrônico, que rola em cada esquina de Fortaleza. Sei que aqui no Recife tem o brega, aquele diabo daquele teclado fazendo a introdução de alguma música que vai falar de cornura e raparigagem, fora as cenas de sexo, com a mulher sendo sempre objeto, mas em Fortaleza algo me deixa nervoso, para não dizer desesperado: são os carros particulares, com alto-falantes imensos, máquinas potentes e devastadoras.
A regra matemática é a mais simples do mundo: quanto mais alto o som, mais imbecil o sujeito. E é aquele tipo de imbecil que dói nos nervos, o de classe média alta, arrumadinho, engomadinho, estúpido até os dentes, e que tem um carrão com um som potente.
Você pode estar num bucólico, singelo, pacato boteco, tomando sua cervejinha, pensando nas besteiras que fez e que deixou de fazer, anotando as providências e urgências para o amanhã (urgência para hoje cansa), aquele silêncio pacato e misterioso da vida, você quase faz uma prece para agradecer aquela tranquilidade que o momento pedia, quando chega um sujeito, abre a tampa do bagageiro e manda ver, um "Aviões do Forró", "Caldinha Preta", coisas do tipo. Detalhe: tem que ser numa altura máxima. O prazer sexual do sujeito é mostrar que tem um som muito potente. Dizem que Freud explica, se não explicar, é porque é meio burrinho mesmo, porque até eu explico.
Isso é muito normal na minha querida Fortaleza, ninguém reclama, faz parte da cultura, e não vou ficar brigando com todo mundo. Fico arrasado, fecho meu caderno, pago a cerveja e vou me embora, fico logo com saudades de Vital, o silencioso boteco de esquina aqui do Poço, onde você escuta, no máximo, as discussões dos nossos confrades, e os gritos às vezes irritados de Juca e Dudu, dois singelos papagaios.
Bem, vou ali, arrumar minhas roupas para a viagem. O motivo da crônica de hoje é somente falar do meu retorno às origens, depois de uns três anos sem ir a Fortaleza. Gustavo me disse, outro dia, que começo a escrever sobre uma coisa, e passo a falar de outra, com a maior naturalidade do mundo. Eu deveria ter começado informando que hoje viajo a Fortaleza, e deveria fazer umas comparações culturais, mas acabei me enrolando, perdio o fio da meada, e fica por isso mesmo, que isso aqui não é um curso de lógica.
Como a camisa do Santa Cruz vai comigo, e pretendo usá-la no domingo, em Fortaleza, antes de embarcar de volta para ver Santa x Corinthians, vocês devem entender o que estou falando.
Para o Neto, meu velho amigo de Monte Castelo, o bairro que morei dos 10 aos 18 anos.
segunda-feira, 24 de julho de 2006
Notinha
Aos poucos mas atentos leitores deste Blog: ontem saiu uma matéria bacana no Diário de Pernambuco, sobre um livro que estou terminando.Está na página 4 de Política. Tem um pequeno texto meu, falando do trabalho.
Tentei copiar a matéria para colocar aqui, mas minha burrice crônica com informática não permitiu.
Entrementes, tento reeditar Estuário pela Editora Bagaço, para relançar no Festival de Literatura do Recife, no final de agosto. Esse negócio de edição do autor, com lotes de 40 livros, torra a paciência.
Como dizia o velho Paulo Leminsky, "distraídos venceremos".
Tentei copiar a matéria para colocar aqui, mas minha burrice crônica com informática não permitiu.
Entrementes, tento reeditar Estuário pela Editora Bagaço, para relançar no Festival de Literatura do Recife, no final de agosto. Esse negócio de edição do autor, com lotes de 40 livros, torra a paciência.
Como dizia o velho Paulo Leminsky, "distraídos venceremos".
sexta-feira, 21 de julho de 2006
Sábado no Recife
Sábado no Recife. Minto. Sábado em Casa Amarela. Súbito, descubro que amo este pedaço da cidade, este bairro que tem nome uma casa de cor amarelada. Amo as ruas, as dobras, os vendedores de sonhos, aboletados em suas bancas de jogo do bicho. Amo os balcões dos mercados, os tamboretes que equilibram os homens e suas doses, em meio à festa dos pratos que saem a cada minuto, com algo guisado, assado, algo cheirando das penelas.
E essa claridade do sábado? E esse sol recifense, que torna as coisas mais claras, as pessoas mais lúdicas? Não, não se trata da lucidez comum, de sentir a alma melhor, seguindo os manuais de auto-ajuda, mas a lucidez de viver, seja como for, seja como flor.
Os homens circulam, conversam, bebem algo, contam histórias. O sábado é o dia das confissões. Ninguém atravessa o sábado com um segredo no peito. Se o faz, é um equivocado, um coxo permanente do espírito. Sábado é também o dia consagrado para o armistício. Não deveria haver mortes aos sábados. Não deveria haver separações, brigas, troca de farpas. Daqui do meu canto, uma mesinha em “Mery Almoços”, onde tomo estas notas, decreto inutilmente: não vos maltrateis aos sábados, pois é o dia do armistício!
No sábado, as janelas devem ser abertas no três e o dominó jamais poderá causar rusgas. O jogo, neste dia, deve ser manso. Os gestos devem ser mansos. Nada de bater pedras no tabuleiro. Há que tocá-las suavemente, sem ruídos, sem alardes. Há que cuidar para não deixar a porta bater. As conversas devem ser mansas (só as gargalhadas devem se espalhar, causar estremecimentos no espíritos). É aconselhável andar como no século XIX, como faz o meu amigo Gustavo.
Não descuidemos da geografia. A geografia, como a história, nos faz singulares. A geografia das ruas, das casas, dos bares, das roupas penduradas às janelas. É pelos detalhes espaciais que um francês é francês, que faz um sujeito de Marseille ser diferente do parisiense. O recifense da Zona Norte tem outro ritmo, outra ginga, o olhar é mais cadenciado. Só caminhando pelas calçadas de Casa Amarela, Poço da Panela, Alto José do Pinho, se percebe isso.
A geografia dos rostos também reverbera e aponta definições. Não tivesse eu vindo para o Recife, em 1987, com 18 anos, minha vida teria sido outra. Não teria encontrado meu próprio sangue, teria me perdido do meu destino. Seria como um soldado, que vai para a batalha, e apenas caminha, à procura de seu único combate. Me faltaria, ao final da vida, a herança afetiva do povo que escolhi para a irmandade. Seria manco do espírito. Entraria na batalha já ferido de morte. Sendo jogador, entraria em campo contudido. A vida, sem o Recife, teria sido de viés.
Sábado em Casa Amarela. Um dia em que se pode consertar uma bolsa rasgada por R$ 1,00. Dia em que os velhos sebos vendem livros como “Irresistível amor”, “Ninho de amor”, “Amor sem máscaras”, “Cowboy de aluguel”. Dia perfeito para comprar o “Livro do Ano” de 1971 e ver que o mundo sempre foi esta confusão dos homens e do poder. Dia em que se pode comprar livros como “Miséria doirada”, ou “Catita – quadrinhos eróticos para adultos”. Não esqueçamos das Playboys antigas, amontoando os corpos já envelhecidos. “Tiazinha! 26 páginas de enlouquecer!”.
Sábado. Estou olhando os livros, quando chega um bêbado e me conta que encontrou um livro sobre Raul Seixas, no banco da Praça de Casa Forte.
“Acho que o cara leu e esqueceu no banco”, diz.
“Que sorte, heim?”, respondo, e a senha está dada para a conversa.
Ele olha para mim, me dá uma cutucada e diz:
“A história do velho Raul!”
No mesmo dia, cheio dos quequéus, ele perdeu o livro.
“Se eu encontrar, pego pra tu. É a história do velho Raul. Perdi ali, perto de Dom Vital. Só tem ladrão”.
Dom Vital é uma escola, em Casa Amarela, defronte a Mery. Nunca vi ladrão por lá.
“O velho Raul, o velho Raul”, repete meu bebinho.
Passa o vendedor de relógios, com vários deles dentro de um recipiente plástico, cheio d’água.
“Queres? É a prova d’água”.
En se voi, dizem os franceses.
Casa Amarela. Onde os diálogos passeiam coletivamente por entre as mesas.
“Mas tu não é frango não, é?”
“Eu disse que voltava, não foi? O boêmio voltou novamente”.
“Boa tarde, Mery, é um prazer revê-la”.
“Eu não posso dizer a mesma coisa”.
“Faça feito eu: minta”.
“Eu não sei mentir, só sei falar a verdade”.
“Verdade demais mata, meu bem”.
“É cada um que me aparece aqui...”
“Ele está tomando Gardenal”.
“É remédio controlado, é?”
“É, mas só o remédio. Ele não tem controle de nada”.
“Dona Mery, não dá para comer sem colher!”
“Cadê o Zé? Nunca mais vi o Zé!”
“Ele é ele, tu é tu. Fica na tua aí que é melhor”.
Fico por aqui. O sábado me levou a passeios pela memória. Em 1987, quando cheguei aqui, Casa Amarela foi uma espécie de albergue da esperança. Depois de alguns anos fora, voltei para o mesmo lado da cidade. É onde está meu norte. Algo em minha alma pertence ao Recife. Não nasci recifense por uma distração espiritual dos meus pais. Vai aqui o meu perdão. É preciso perdoar sempre e amar sempre. Estou tentando.
E essa claridade do sábado? E esse sol recifense, que torna as coisas mais claras, as pessoas mais lúdicas? Não, não se trata da lucidez comum, de sentir a alma melhor, seguindo os manuais de auto-ajuda, mas a lucidez de viver, seja como for, seja como flor.
Os homens circulam, conversam, bebem algo, contam histórias. O sábado é o dia das confissões. Ninguém atravessa o sábado com um segredo no peito. Se o faz, é um equivocado, um coxo permanente do espírito. Sábado é também o dia consagrado para o armistício. Não deveria haver mortes aos sábados. Não deveria haver separações, brigas, troca de farpas. Daqui do meu canto, uma mesinha em “Mery Almoços”, onde tomo estas notas, decreto inutilmente: não vos maltrateis aos sábados, pois é o dia do armistício!
No sábado, as janelas devem ser abertas no três e o dominó jamais poderá causar rusgas. O jogo, neste dia, deve ser manso. Os gestos devem ser mansos. Nada de bater pedras no tabuleiro. Há que tocá-las suavemente, sem ruídos, sem alardes. Há que cuidar para não deixar a porta bater. As conversas devem ser mansas (só as gargalhadas devem se espalhar, causar estremecimentos no espíritos). É aconselhável andar como no século XIX, como faz o meu amigo Gustavo.
Não descuidemos da geografia. A geografia, como a história, nos faz singulares. A geografia das ruas, das casas, dos bares, das roupas penduradas às janelas. É pelos detalhes espaciais que um francês é francês, que faz um sujeito de Marseille ser diferente do parisiense. O recifense da Zona Norte tem outro ritmo, outra ginga, o olhar é mais cadenciado. Só caminhando pelas calçadas de Casa Amarela, Poço da Panela, Alto José do Pinho, se percebe isso.
A geografia dos rostos também reverbera e aponta definições. Não tivesse eu vindo para o Recife, em 1987, com 18 anos, minha vida teria sido outra. Não teria encontrado meu próprio sangue, teria me perdido do meu destino. Seria como um soldado, que vai para a batalha, e apenas caminha, à procura de seu único combate. Me faltaria, ao final da vida, a herança afetiva do povo que escolhi para a irmandade. Seria manco do espírito. Entraria na batalha já ferido de morte. Sendo jogador, entraria em campo contudido. A vida, sem o Recife, teria sido de viés.
Sábado em Casa Amarela. Um dia em que se pode consertar uma bolsa rasgada por R$ 1,00. Dia em que os velhos sebos vendem livros como “Irresistível amor”, “Ninho de amor”, “Amor sem máscaras”, “Cowboy de aluguel”. Dia perfeito para comprar o “Livro do Ano” de 1971 e ver que o mundo sempre foi esta confusão dos homens e do poder. Dia em que se pode comprar livros como “Miséria doirada”, ou “Catita – quadrinhos eróticos para adultos”. Não esqueçamos das Playboys antigas, amontoando os corpos já envelhecidos. “Tiazinha! 26 páginas de enlouquecer!”.
Sábado. Estou olhando os livros, quando chega um bêbado e me conta que encontrou um livro sobre Raul Seixas, no banco da Praça de Casa Forte.
“Acho que o cara leu e esqueceu no banco”, diz.
“Que sorte, heim?”, respondo, e a senha está dada para a conversa.
Ele olha para mim, me dá uma cutucada e diz:
“A história do velho Raul!”
No mesmo dia, cheio dos quequéus, ele perdeu o livro.
“Se eu encontrar, pego pra tu. É a história do velho Raul. Perdi ali, perto de Dom Vital. Só tem ladrão”.
Dom Vital é uma escola, em Casa Amarela, defronte a Mery. Nunca vi ladrão por lá.
“O velho Raul, o velho Raul”, repete meu bebinho.
Passa o vendedor de relógios, com vários deles dentro de um recipiente plástico, cheio d’água.
“Queres? É a prova d’água”.
En se voi, dizem os franceses.
Casa Amarela. Onde os diálogos passeiam coletivamente por entre as mesas.
“Mas tu não é frango não, é?”
“Eu disse que voltava, não foi? O boêmio voltou novamente”.
“Boa tarde, Mery, é um prazer revê-la”.
“Eu não posso dizer a mesma coisa”.
“Faça feito eu: minta”.
“Eu não sei mentir, só sei falar a verdade”.
“Verdade demais mata, meu bem”.
“É cada um que me aparece aqui...”
“Ele está tomando Gardenal”.
“É remédio controlado, é?”
“É, mas só o remédio. Ele não tem controle de nada”.
“Dona Mery, não dá para comer sem colher!”
“Cadê o Zé? Nunca mais vi o Zé!”
“Ele é ele, tu é tu. Fica na tua aí que é melhor”.
Fico por aqui. O sábado me levou a passeios pela memória. Em 1987, quando cheguei aqui, Casa Amarela foi uma espécie de albergue da esperança. Depois de alguns anos fora, voltei para o mesmo lado da cidade. É onde está meu norte. Algo em minha alma pertence ao Recife. Não nasci recifense por uma distração espiritual dos meus pais. Vai aqui o meu perdão. É preciso perdoar sempre e amar sempre. Estou tentando.
Mudanças em Estuário
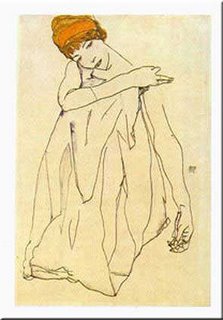
Andei pensando cá entre meus miolos, e numa conferência comigo mesmo, resolvi dar uma mexida no Blog. Como estou ficando muito sabido, vou começar a colocar algumas imagens também, pinturas, fotografias etc, além de textos de outras pessoas, que acho bonito. A idéia é atualizar mais, e abrir espaço para outras expressões, outras vozes.
Tenho um motivo especial: amizade com muitos artistas, gente que vem produzindo coisas bacanas, fora as almas sensíveis, que escrevem poemas, pequenas coisas lindas, que ficam adormecidas não mais em gavetas, mas nos arquivos de seus computadores.
Que acham?
Faço a inauguração pictórica com esta jóia do Egon Schiele, "Die tanzerin", que no meu alemão fluente, deve ser "A dançarina".
Entre uma e outra beleza, uma cronicazinha do velho marujo aqui, para não perder o costume.
Um abraço,
samarone (samalima@gmil.com)
terça-feira, 18 de julho de 2006
Notícias fundamentais para o bem viver
Acabo de ler no JC Econômico, do Jornal do Commercio uma pequena nota, falando o seguinte:
"O IPA está lançando a cebola Brisa A-12, desenvolvida pelo pesquisador Jonas Araújo, que além de maior resistência às pragas e produtividade, tem menor pulgência, ou seja: não arde nos olhos quando manipulada na cozinha".
Sinceramente, seu Jonas Araújo, pela mãe do guarda, tenha piedade. Eu acho que a tal Brisa A-12 vai retirar da cozinha justamente um componente dramático, vai tirar a pulgência, que são as lágrimas de quem corta cebola. Depois da tal Brisa, não poderemos cantar "Teu amor é cebola cortada, meu bem/que logo me faz chorar", sucesso dos anos 70 na voz do Raimundo Fagner.
O que será da criatura que tem vergonha ou dificuldade de chorar, que se agarra às cebolas para soltar seu pranto, disfarçando de toda a família uma tremenda dor de cotovelo? Não, meu amigo, por Deus, faça a pesquisa para que a nossa boa cebola resista bem às pragas, inclusive às pragas do Egito, faça com que ela seja produtiva e rentável, mas vai meu apelo inútil: não retire a pulgência das cebolas, para que as pessoas possam chorar em paz e sem remorso!
No mesmo jornal, na mesma coluna, sou informado que, pelas contas da Celpe, a Companhia de Eletricidade de Pernambuco, são desviados, anualmente, R$ 154 milhões. É o famoso macaco comendo no centro, a turma fazendo gambiarra para não gastar todo o salário só com a conta de luz, puxando do poste um arremedozinho de luz, ou confiscando, na calada da noite, uns megawats do contador mesmo, para não cair duro com a chegada da conta.
"Não é nada, mas seria suficiente para iluminar Recife por cinco meses, ou Pernambuco por 45 dias", informa a coluna.
Primeiro, acho que a empresa nem deveria ser chamada mais de Companhia de Eletricidade de Pernambuco (Celpe), porque há muito tempo deixou de ser pernambucana, e é do Grupo Neoenergia, que por sinal eu detesto. Se eu conhecer um sujeito, e ele disser que é do Grupo Neoenergia, eu fecho a cara e começo a falar sobre a importância do desvio de energia. Depois, ela, a dita empresa, pode ter o lucro que tiver, mas não ilumina o Recife nem uma noite de graça, quanto mais cinco meses. Diria que são incapazes de iluminar um reles, um magricela de um poste, defronte a um orfanato. Terceiro, o que essa companhia está massacrando o povo, não é brincadeira.
Eu, que sou um atrasador crônico de contas de luz, água, telefone e outras faturas, tenho visto as filas e filas de gente parcelando as contas nas lojas da Celpe, com juros em cima de juros, com choro e ranger de dentes. Os desgraçados não avisam que vão cortar a luz, e só religam se você estiver em casa. Além disso, tratam a gente aos pontapés.
Antes, quando a velha Celpe era nossa, ainda mandavam aviso, o prazo era maior, havia a mínima cordialidade com o sofrimento alheio. Agora, são 45 dias e zapt! – o sujeito fica à luz de velas. Da última vez que fui parcelar duas contas atrasadas, a mulher, por sinal chatíssima, me disse que eles estão dificultando o parcelamento dos atrasados. Por que?, perguntei eu, "porque o povo não está conseguindo pagar", respondeu ela, quase assoviando la vie en rose. Não é à toa que o ilustre Vital, aqui do Poço, chama a conta de luz de "a infame".
Daqui do meu cantinho, eu olho para os R$ 154 milhões desviados e repito o que diz o velho bloco de Carnaval: eu acho é pouco.
Sou informado também que o brasileiro toma, em média, 3 litros e meio de sorvete por cabeça, creio que durante um ano. Nos países nórdicos, a média é de 20 litros/cabeça. Aqui vai uma confissão: alguém está tomando sorvete por mim. Não sei o que há, sou um sujeito muito esquecido, muitíssimo distraído, lembrei agora que me lembro muito pouco de tomar sorvete.
Não sei o que há, mas passo direto, não reparo nas sorveterias, e nunca me lembro de botar um pote daqueles da Kibom no carrinho do supermercado. Creio que minha média tem sido, com um certo exagero, meio litro por ano (e dependendo do ano). Ano passado, mesmo, acho que fiquei por ali, na faixa dos três casquinhos de duas bolas, sempre doce de leite e algo com passas, porque sou um sujeito que adora passas no sorvete, uma herança de infância.
Na verdade, fiquei pensando: esses nórdicos tomam sorvete pra chuchu, né? Se eu fosse diretor da Maguary Kibom, eu convocava o alto comando e fazia a sugestão: vamos invadir os países nórdicos, porque a negada lá toma um sorvete empurrado!
Vou aos Classificados (de hoje mesmo) reparar em alguma coisa diferente, para a crônica de hoje. Tem lá, no setor de "acompanhantes", o anúncio da senhora Dayanna Diaz, aliás, perdão, um senhor. "Travesti loira bela feminina lábios carnudos, turbinada beijo grego com local". Depois tem os telefones, que vou declinar. Pois bem, me vem uma pergunta existencial: o que diabos vem a ser um "beijo grego com local"?
Por último, aviso aos meus poucos mas insistentes leitores sobre uma oportunidade incrível. O sujeito está vendendo um Trator MF-275, ano 96, com 4 emplementos + 1000 horas garantia total + frete incluso. R$ 4.500.00 + 24 X R$ 1.020.00 fixas ou à vista R$ 18 mil. Apesar de não saber o que são os tais "4 emplementos", nem como ele vai contabilizar as 1000 horas de garantia, acho que é aquele negócio de ocasião, o famoso pegar ou largar.
Já pensou, o cara chegar no trabalho, amanhã, num tremento MF-275? Se eu tivesse um bicho desse, levava meus amigos tudinho de trator para o Arruda, no domingo, para o massacre do Santinha no Flamengo. Mas, como diz o velho ditado popular, quem não tem trator, vai de Kombi, é o meu caso.
E la nave va.
"O IPA está lançando a cebola Brisa A-12, desenvolvida pelo pesquisador Jonas Araújo, que além de maior resistência às pragas e produtividade, tem menor pulgência, ou seja: não arde nos olhos quando manipulada na cozinha".
Sinceramente, seu Jonas Araújo, pela mãe do guarda, tenha piedade. Eu acho que a tal Brisa A-12 vai retirar da cozinha justamente um componente dramático, vai tirar a pulgência, que são as lágrimas de quem corta cebola. Depois da tal Brisa, não poderemos cantar "Teu amor é cebola cortada, meu bem/que logo me faz chorar", sucesso dos anos 70 na voz do Raimundo Fagner.
O que será da criatura que tem vergonha ou dificuldade de chorar, que se agarra às cebolas para soltar seu pranto, disfarçando de toda a família uma tremenda dor de cotovelo? Não, meu amigo, por Deus, faça a pesquisa para que a nossa boa cebola resista bem às pragas, inclusive às pragas do Egito, faça com que ela seja produtiva e rentável, mas vai meu apelo inútil: não retire a pulgência das cebolas, para que as pessoas possam chorar em paz e sem remorso!
No mesmo jornal, na mesma coluna, sou informado que, pelas contas da Celpe, a Companhia de Eletricidade de Pernambuco, são desviados, anualmente, R$ 154 milhões. É o famoso macaco comendo no centro, a turma fazendo gambiarra para não gastar todo o salário só com a conta de luz, puxando do poste um arremedozinho de luz, ou confiscando, na calada da noite, uns megawats do contador mesmo, para não cair duro com a chegada da conta.
"Não é nada, mas seria suficiente para iluminar Recife por cinco meses, ou Pernambuco por 45 dias", informa a coluna.
Primeiro, acho que a empresa nem deveria ser chamada mais de Companhia de Eletricidade de Pernambuco (Celpe), porque há muito tempo deixou de ser pernambucana, e é do Grupo Neoenergia, que por sinal eu detesto. Se eu conhecer um sujeito, e ele disser que é do Grupo Neoenergia, eu fecho a cara e começo a falar sobre a importância do desvio de energia. Depois, ela, a dita empresa, pode ter o lucro que tiver, mas não ilumina o Recife nem uma noite de graça, quanto mais cinco meses. Diria que são incapazes de iluminar um reles, um magricela de um poste, defronte a um orfanato. Terceiro, o que essa companhia está massacrando o povo, não é brincadeira.
Eu, que sou um atrasador crônico de contas de luz, água, telefone e outras faturas, tenho visto as filas e filas de gente parcelando as contas nas lojas da Celpe, com juros em cima de juros, com choro e ranger de dentes. Os desgraçados não avisam que vão cortar a luz, e só religam se você estiver em casa. Além disso, tratam a gente aos pontapés.
Antes, quando a velha Celpe era nossa, ainda mandavam aviso, o prazo era maior, havia a mínima cordialidade com o sofrimento alheio. Agora, são 45 dias e zapt! – o sujeito fica à luz de velas. Da última vez que fui parcelar duas contas atrasadas, a mulher, por sinal chatíssima, me disse que eles estão dificultando o parcelamento dos atrasados. Por que?, perguntei eu, "porque o povo não está conseguindo pagar", respondeu ela, quase assoviando la vie en rose. Não é à toa que o ilustre Vital, aqui do Poço, chama a conta de luz de "a infame".
Daqui do meu cantinho, eu olho para os R$ 154 milhões desviados e repito o que diz o velho bloco de Carnaval: eu acho é pouco.
Sou informado também que o brasileiro toma, em média, 3 litros e meio de sorvete por cabeça, creio que durante um ano. Nos países nórdicos, a média é de 20 litros/cabeça. Aqui vai uma confissão: alguém está tomando sorvete por mim. Não sei o que há, sou um sujeito muito esquecido, muitíssimo distraído, lembrei agora que me lembro muito pouco de tomar sorvete.
Não sei o que há, mas passo direto, não reparo nas sorveterias, e nunca me lembro de botar um pote daqueles da Kibom no carrinho do supermercado. Creio que minha média tem sido, com um certo exagero, meio litro por ano (e dependendo do ano). Ano passado, mesmo, acho que fiquei por ali, na faixa dos três casquinhos de duas bolas, sempre doce de leite e algo com passas, porque sou um sujeito que adora passas no sorvete, uma herança de infância.
Na verdade, fiquei pensando: esses nórdicos tomam sorvete pra chuchu, né? Se eu fosse diretor da Maguary Kibom, eu convocava o alto comando e fazia a sugestão: vamos invadir os países nórdicos, porque a negada lá toma um sorvete empurrado!
Vou aos Classificados (de hoje mesmo) reparar em alguma coisa diferente, para a crônica de hoje. Tem lá, no setor de "acompanhantes", o anúncio da senhora Dayanna Diaz, aliás, perdão, um senhor. "Travesti loira bela feminina lábios carnudos, turbinada beijo grego com local". Depois tem os telefones, que vou declinar. Pois bem, me vem uma pergunta existencial: o que diabos vem a ser um "beijo grego com local"?
Por último, aviso aos meus poucos mas insistentes leitores sobre uma oportunidade incrível. O sujeito está vendendo um Trator MF-275, ano 96, com 4 emplementos + 1000 horas garantia total + frete incluso. R$ 4.500.00 + 24 X R$ 1.020.00 fixas ou à vista R$ 18 mil. Apesar de não saber o que são os tais "4 emplementos", nem como ele vai contabilizar as 1000 horas de garantia, acho que é aquele negócio de ocasião, o famoso pegar ou largar.
Já pensou, o cara chegar no trabalho, amanhã, num tremento MF-275? Se eu tivesse um bicho desse, levava meus amigos tudinho de trator para o Arruda, no domingo, para o massacre do Santinha no Flamengo. Mas, como diz o velho ditado popular, quem não tem trator, vai de Kombi, é o meu caso.
E la nave va.
segunda-feira, 17 de julho de 2006
Coisas da vida
Foi no sábado, no Mercado de Água Fria. Estávamos eu, Serjão e João Valadares, no bar Tenório, o rei do Jabá. Eram poucas mesas, na calçada, e tivemos que dividir o espaço com três camaradas que bebericavam mansamente, por ali. Daqui a pouco, já estávamos, nós três, num papo animado com os três desconhecidos. Lá pelas tantas, um deles olhou para o João e disse:
"Esse bicho é repórter. Eu conheço uma pessoa que é repórter".
Falou assim, do nada. Acertou em cheio. Depois olhou para mim e anunciou:
"Esse aqui é escritor".
Ficamos meio mudos.
Finalmente, ele olhou para Serjão, que estava com uma máquina fotográfica.
"E esse aqui, é o quê?"
"Fotógrafo", respondeu nosso adivinho.
"Tá bom. Só porque eu estou com uma máquina fotográfica na mão, sou fotógrafo. Quer dizer que se eu estivesse com um rolo de papel higiênico na mão, eu era um cagão?", perguntou Sérgio, e rimos muito.
Pois bem. A conversa seguia nesse ritmo sereno do sábado, já início da tarde, quando chegou uma senhora e pediu dinheiro para uma cana. Ela me chamou a atenção. O rosto era de uma índia, uma índia velha, os cabelos brancos e bem lisos escorriam pelos ombros. As feições eram marcantes. Esses rostos cheios de vida, que formam, na verdade, um semblante.
"A senhora quer uma cana?", perguntou Serjão.
Ela fez que sim com a cabeça. Serjão pediu a cana, ela bebeu como se fosse água.
Daqui a pouco, ela me olha e diz que sou muito bonito, e o sábado fica lindo. Digo que ela também é muito bonita, Serjão tira uma foto nossa, e passamos a conversar. Então já somos seis na mesa e uma senhora de quase 60 anos, uma índia perdida num mercado de subúrbio. Ela teve 23 filhos, mora ali perto, é amiga de todos no Mercado.
Depois da nossa conversa, ela vai embora. Notamos um dos camaradas de cabeça baixa, com a mão encobrindo o rosto. O amigo dele informa:
"Ele é um dos filhos dela".
Há um silêncio respeitoso na mesa. Depois ele explica que aquela senhora é sua mãe, que é alcoólatra, que não adianta levar para casa, que daqui a pouco ela volta para beber. Ficou envergonhado.
Caramba, o sujeito está tomando umas cervejinhas, numa tarde de sábado, quando a mãe chega do nada, e pede uma dose de cachaça a desconhecidos.
Seguimos nossa peregrinação. Depois fomos para o Edmilson Esquina Bar, onde atacamos um sarapatel.
"Muito bom esse sarapatel", vaticionou Valadares.
"Sarapatel não, sarrabulho", respondeu Serjão.
Terminamos a jornada mística em Vital, já ao crepúsculo.
Hoje, a imagem daquela índia envelhecida, que teve 23 filhos, me apareceu com força. E pensei em seu filho, já homem feito, envergonhado, escondendo o rosto.
Coisas da humanidade. Coisas da vida, eu sei lá.
"Esse bicho é repórter. Eu conheço uma pessoa que é repórter".
Falou assim, do nada. Acertou em cheio. Depois olhou para mim e anunciou:
"Esse aqui é escritor".
Ficamos meio mudos.
Finalmente, ele olhou para Serjão, que estava com uma máquina fotográfica.
"E esse aqui, é o quê?"
"Fotógrafo", respondeu nosso adivinho.
"Tá bom. Só porque eu estou com uma máquina fotográfica na mão, sou fotógrafo. Quer dizer que se eu estivesse com um rolo de papel higiênico na mão, eu era um cagão?", perguntou Sérgio, e rimos muito.
Pois bem. A conversa seguia nesse ritmo sereno do sábado, já início da tarde, quando chegou uma senhora e pediu dinheiro para uma cana. Ela me chamou a atenção. O rosto era de uma índia, uma índia velha, os cabelos brancos e bem lisos escorriam pelos ombros. As feições eram marcantes. Esses rostos cheios de vida, que formam, na verdade, um semblante.
"A senhora quer uma cana?", perguntou Serjão.
Ela fez que sim com a cabeça. Serjão pediu a cana, ela bebeu como se fosse água.
Daqui a pouco, ela me olha e diz que sou muito bonito, e o sábado fica lindo. Digo que ela também é muito bonita, Serjão tira uma foto nossa, e passamos a conversar. Então já somos seis na mesa e uma senhora de quase 60 anos, uma índia perdida num mercado de subúrbio. Ela teve 23 filhos, mora ali perto, é amiga de todos no Mercado.
Depois da nossa conversa, ela vai embora. Notamos um dos camaradas de cabeça baixa, com a mão encobrindo o rosto. O amigo dele informa:
"Ele é um dos filhos dela".
Há um silêncio respeitoso na mesa. Depois ele explica que aquela senhora é sua mãe, que é alcoólatra, que não adianta levar para casa, que daqui a pouco ela volta para beber. Ficou envergonhado.
Caramba, o sujeito está tomando umas cervejinhas, numa tarde de sábado, quando a mãe chega do nada, e pede uma dose de cachaça a desconhecidos.
Seguimos nossa peregrinação. Depois fomos para o Edmilson Esquina Bar, onde atacamos um sarapatel.
"Muito bom esse sarapatel", vaticionou Valadares.
"Sarapatel não, sarrabulho", respondeu Serjão.
Terminamos a jornada mística em Vital, já ao crepúsculo.
Hoje, a imagem daquela índia envelhecida, que teve 23 filhos, me apareceu com força. E pensei em seu filho, já homem feito, envergonhado, escondendo o rosto.
Coisas da humanidade. Coisas da vida, eu sei lá.
sexta-feira, 14 de julho de 2006
De volta pra casa
Ah, estou de volta. Depois de uma verdadeira temporada no Cabo de Santo Agostinho, acompanhando a tia-avó que teve um princípio de AVC, chego novamente à minha pátria espiritual o Poço da Panela. A tia se recuperou bem, de uma forma surpreendente. Na segunda-feira, sentamos e começamos a conversar. Ela me contou a história de sua vida, numa cronologia impressionante.
"Nasci para ser professora. É a minha vocação, eu sempre soube, desde o início", disse ela, com os olhos brilhando. Acho lindo isso, saber o que quer e ir atrás do ofício, realizar coisas, viabilizar a vida na generosidade. Ela fez isso como ninguém.
No Cabo, estava tudo ótimo, mas sofri muito com a falta do meu bar predileto. Lamento, amigos, mas não encontrei nenhuma filial da mercearia de Seu Vital por lá. Nenhum lugar que tenha queijo com mortadela regada ao molho inglês, ou um queijo acebolado no capricho, com pão na serra. Nenhum boteco que tenha aquele atendimento brusco, que parece irritado e brabo, mas é 99% encenação. Não encontrei contadores de piada cinco estrelas, como Walter.
Não resisti. Vou ficar acompanhando a tia com idas e vindas a cada dois dias. Agora mesmo, tardinha da sexta-feira, batuco esta crônica de improviso numa lan-house, e plenejo tomar uma Brahma, em pleno crepúsculo. São as pequenas redenções, as necessárias redenções.
Muita gente acha que exagero no bucolismo, mas estarão lá, daqui a pouco, o velho Tony, Garotinho, Luiz Pezão Maúcha, Eduardo, Duda a Milhão, Naná, Lucidélia, Walter etc. Depois chega Lulu, querendo brincar e mostrar alguma sandália nova, no auge dos três anos.
Minha casa tem um primeiro andar, e de lá, posso ver o bar de Seu Vital. Sim, amigos, tenho uma casa com vista para o bar. Quando estou nos momentos mais tristes, quando as coisas saem erradas, costumo dizer o que o poeta disse em tempos remotos:
"Vou me embora para Vital. Lá, sou amigo dos reis".
Vital. O único bar do Brasil frequentado por três reis (Walter, Naná e Davi). O único com troncos na calçada, servindo de cadeira e mesa. O único que registra as buchudas aos domingos, motivo de discussões acaloradas. O único bar do Brasil que recebe minhas correspondências, quando estou viajando ou perambulando.
Tia está sã e salva, já posso ficar mais relaxado. Eu agora preciso me cuidar. Ontem, dei uma faxinada completa, varri tudo, passei o pano, cheguei ao final do dia exausto.
Mas foi aquele cansaço bom, de quem está voltando para casa. É bom ter um lugar para chegar, um lugar que tenha nosso cheiro, nossos gostos, os livros espalhados de um certo jeito, o tapete naquele lugar, uma lâmpada queimada por ali, para a gente pensar "preciso comprar uma lâmpada para minha casa".
E domingo, ninguém me segura. Vou ser aquele zagueiro raçudo de sempre, na pelada dos Caducos. Se bobearem, darei umas subidinhas para o ataque, em busca de um gol-surpresa, depois de três semanas desfalcando a nossa defesa.
Vou dedicar à tia, claro.
ps. Gustavo, encontei o Heidegger, naquele formato que conheces bem. Na leveza...
"Nasci para ser professora. É a minha vocação, eu sempre soube, desde o início", disse ela, com os olhos brilhando. Acho lindo isso, saber o que quer e ir atrás do ofício, realizar coisas, viabilizar a vida na generosidade. Ela fez isso como ninguém.
No Cabo, estava tudo ótimo, mas sofri muito com a falta do meu bar predileto. Lamento, amigos, mas não encontrei nenhuma filial da mercearia de Seu Vital por lá. Nenhum lugar que tenha queijo com mortadela regada ao molho inglês, ou um queijo acebolado no capricho, com pão na serra. Nenhum boteco que tenha aquele atendimento brusco, que parece irritado e brabo, mas é 99% encenação. Não encontrei contadores de piada cinco estrelas, como Walter.
Não resisti. Vou ficar acompanhando a tia com idas e vindas a cada dois dias. Agora mesmo, tardinha da sexta-feira, batuco esta crônica de improviso numa lan-house, e plenejo tomar uma Brahma, em pleno crepúsculo. São as pequenas redenções, as necessárias redenções.
Muita gente acha que exagero no bucolismo, mas estarão lá, daqui a pouco, o velho Tony, Garotinho, Luiz Pezão Maúcha, Eduardo, Duda a Milhão, Naná, Lucidélia, Walter etc. Depois chega Lulu, querendo brincar e mostrar alguma sandália nova, no auge dos três anos.
Minha casa tem um primeiro andar, e de lá, posso ver o bar de Seu Vital. Sim, amigos, tenho uma casa com vista para o bar. Quando estou nos momentos mais tristes, quando as coisas saem erradas, costumo dizer o que o poeta disse em tempos remotos:
"Vou me embora para Vital. Lá, sou amigo dos reis".
Vital. O único bar do Brasil frequentado por três reis (Walter, Naná e Davi). O único com troncos na calçada, servindo de cadeira e mesa. O único que registra as buchudas aos domingos, motivo de discussões acaloradas. O único bar do Brasil que recebe minhas correspondências, quando estou viajando ou perambulando.
Tia está sã e salva, já posso ficar mais relaxado. Eu agora preciso me cuidar. Ontem, dei uma faxinada completa, varri tudo, passei o pano, cheguei ao final do dia exausto.
Mas foi aquele cansaço bom, de quem está voltando para casa. É bom ter um lugar para chegar, um lugar que tenha nosso cheiro, nossos gostos, os livros espalhados de um certo jeito, o tapete naquele lugar, uma lâmpada queimada por ali, para a gente pensar "preciso comprar uma lâmpada para minha casa".
E domingo, ninguém me segura. Vou ser aquele zagueiro raçudo de sempre, na pelada dos Caducos. Se bobearem, darei umas subidinhas para o ataque, em busca de um gol-surpresa, depois de três semanas desfalcando a nossa defesa.
Vou dedicar à tia, claro.
ps. Gustavo, encontei o Heidegger, naquele formato que conheces bem. Na leveza...
terça-feira, 11 de julho de 2006
Sobre livros e gatunagens
Como velho marujo gatuno de livrarias em todo o território nacional, com algumas incursões bem sucedidas também no exterior, deixo a tradicional crônica de lado e mando o recado – amigo leitor ou leitora, deixe tudo que está fazendo, vá a uma livraria decente (que no Recife são poucas) e compre logo, antes que acabe, o fabuloso “Três Cavalos”, de um italiano chamado Erri de Luca. O livro é fabuloso, intenso, doce, cortante, mágico, tudo o que a boa literatura tem.
Antes que o politicamente córrego passe a atuar, informo que parei minha carreira de confiscador de livros, desde uma péssima atuação em um lançamento na Livraria Cortez, em São Paulo, ao lado da PUC. Estava lá uma grã-finagem intelectual, naquele vinhozinho básico e conversa cabeça, quando fui inventar de surrupiar o Tchecov, creio, “A dama e o cachorrinho”, algo do tipo, mas o raio do vendedor percebeu e veio em cima. O fato é que faltou pouco para a noitada terminar numa delegacia, o Gustavo que não me deixa mentir. Um vendedor maluco ficava repetindo “tá me tirando, meu, tá me tirando”. Eu estava tirando era da livraria, ele é que não entendeu nada.
Também pudera. Com esse negócio de botar alarme em todos os livros, fica desagradabilíssimo arriscar sair assoviando “la vie em rose” com um livrinho intocado, se à saída, vai ter aquele “piiiii piiii piiii” que faz a livraria inteira olhar para você, com olhares acusativos, sentenças já assinadas. Na Livraria Cultura aqui do Recife, pra piorar, ainda tem um baita de um segurança na entrada, com fone de ouvido e tudo, escutando cada pensamento seu. Pior: tem um ex-aluno, o Mauro, que trabalha lá, e fica mal um ex-professor universitário tentar malandragens. Já pensou, o Mauro dizendo "poxa, Sama, nunca pensei". Professor tem este negócio careta de “dar bom exemplo”, enfim.
Com o avanço da tecnologia e o aumento da repressão aos gatunos de livrarias, tive que modificar meu perfil de abordagem. Ultimamente, tenho atuado nas bibliotecas dos amigos mesmo, enquanto os amigos vão buscar um café, uma água, vão botar um CD ou vão ao banheiro, porque meus amigos costumam ir ao banheiro em algum momento do dia ou da noite. Já trouxe de volta para casa três “Zé”, meu primeiro livro, e dois “Estuário”, meu terceiro livro, por sinal esgotado até a tampa. Como nenhum dos amigos percebeu até agora, desconfio que compraram por obrigação mesmo, só para “dar uma força”, como dizemos por aqui, no linguajar popular. Ah, também peguei um “Clamor”, meu segundo livro, da casa de uma amiga, que espero não ser leitora deste blog.
Se você estiver lendo este texto e resolver conferir na sua biblioteca, pode se considerar meu amigo. Se o livro sumiu da sua prateleira, relaxe, que está comigo, devolvo sim. Estou recolhendo minha vasta obra, para revender na Feira do Livro do Recife, que se aproxima. Quem disse que o autor não pode reciclar sua obra?
As vantagens de surrupiar livros dos amigos são muitas. Primeira: se ele descobrir, não vai querer registrar um B.O, na delegacia mais próxima. Segunda: os amigos mais bacanas têm livros a boléu, e nem reparam se faltar um ou dois. Regra básica neste assunto é não levar, na bolsa, aquele livro querido, do autor preferido, porque ele vai notar logo. Terceira vantagem: se ele perceber, dá para devolver e dizer “era uma brincadeira, Pedro Bó”.
Agora eu não sei mesmo onde estava com a cabeça quando levei de lembrança aquele “O homem sem qualidades”, do Robert Musil, um tijolo pesado pra chuchu. E pensando bem, aquela gatunagem em uma livraria de Buenos Aires poderia ter me rendido uma prisão em pleno Mercosul.
Bem, vou terminando por aqui. Hoje devo encontrar meu amigo Gustavo, outrora um David Cooperfield, capaz de fazer bibliotecas sumirem em sua pequena bolsa. Como agora virou editor, creio que está comportado. Vamos tomar um café e falar sobre nossas presepadas. Relembraremos aquele livro grosso que tomei emprestado do Fran’s Café, há seis anos, numa madrugada fria, e nunca li, nem devolvi.
Essas besteiras que a gente faz quando é adulto.
Eu iria falar sobre o livro do Erri de Luca, que é uma paulada, lindo mesmo, mas me distraí, entre uma confissão e outra, mas acabei me divertindo um pouco, e fica por isso mesmo.
Ah, o Tarcisio parece que vai botar Estuário para vender no site da Livro Rápido (www.livrorapido.com.br). Só acredito vendo.
Antes que o politicamente córrego passe a atuar, informo que parei minha carreira de confiscador de livros, desde uma péssima atuação em um lançamento na Livraria Cortez, em São Paulo, ao lado da PUC. Estava lá uma grã-finagem intelectual, naquele vinhozinho básico e conversa cabeça, quando fui inventar de surrupiar o Tchecov, creio, “A dama e o cachorrinho”, algo do tipo, mas o raio do vendedor percebeu e veio em cima. O fato é que faltou pouco para a noitada terminar numa delegacia, o Gustavo que não me deixa mentir. Um vendedor maluco ficava repetindo “tá me tirando, meu, tá me tirando”. Eu estava tirando era da livraria, ele é que não entendeu nada.
Também pudera. Com esse negócio de botar alarme em todos os livros, fica desagradabilíssimo arriscar sair assoviando “la vie em rose” com um livrinho intocado, se à saída, vai ter aquele “piiiii piiii piiii” que faz a livraria inteira olhar para você, com olhares acusativos, sentenças já assinadas. Na Livraria Cultura aqui do Recife, pra piorar, ainda tem um baita de um segurança na entrada, com fone de ouvido e tudo, escutando cada pensamento seu. Pior: tem um ex-aluno, o Mauro, que trabalha lá, e fica mal um ex-professor universitário tentar malandragens. Já pensou, o Mauro dizendo "poxa, Sama, nunca pensei". Professor tem este negócio careta de “dar bom exemplo”, enfim.
Com o avanço da tecnologia e o aumento da repressão aos gatunos de livrarias, tive que modificar meu perfil de abordagem. Ultimamente, tenho atuado nas bibliotecas dos amigos mesmo, enquanto os amigos vão buscar um café, uma água, vão botar um CD ou vão ao banheiro, porque meus amigos costumam ir ao banheiro em algum momento do dia ou da noite. Já trouxe de volta para casa três “Zé”, meu primeiro livro, e dois “Estuário”, meu terceiro livro, por sinal esgotado até a tampa. Como nenhum dos amigos percebeu até agora, desconfio que compraram por obrigação mesmo, só para “dar uma força”, como dizemos por aqui, no linguajar popular. Ah, também peguei um “Clamor”, meu segundo livro, da casa de uma amiga, que espero não ser leitora deste blog.
Se você estiver lendo este texto e resolver conferir na sua biblioteca, pode se considerar meu amigo. Se o livro sumiu da sua prateleira, relaxe, que está comigo, devolvo sim. Estou recolhendo minha vasta obra, para revender na Feira do Livro do Recife, que se aproxima. Quem disse que o autor não pode reciclar sua obra?
As vantagens de surrupiar livros dos amigos são muitas. Primeira: se ele descobrir, não vai querer registrar um B.O, na delegacia mais próxima. Segunda: os amigos mais bacanas têm livros a boléu, e nem reparam se faltar um ou dois. Regra básica neste assunto é não levar, na bolsa, aquele livro querido, do autor preferido, porque ele vai notar logo. Terceira vantagem: se ele perceber, dá para devolver e dizer “era uma brincadeira, Pedro Bó”.
Agora eu não sei mesmo onde estava com a cabeça quando levei de lembrança aquele “O homem sem qualidades”, do Robert Musil, um tijolo pesado pra chuchu. E pensando bem, aquela gatunagem em uma livraria de Buenos Aires poderia ter me rendido uma prisão em pleno Mercosul.
Bem, vou terminando por aqui. Hoje devo encontrar meu amigo Gustavo, outrora um David Cooperfield, capaz de fazer bibliotecas sumirem em sua pequena bolsa. Como agora virou editor, creio que está comportado. Vamos tomar um café e falar sobre nossas presepadas. Relembraremos aquele livro grosso que tomei emprestado do Fran’s Café, há seis anos, numa madrugada fria, e nunca li, nem devolvi.
Essas besteiras que a gente faz quando é adulto.
Eu iria falar sobre o livro do Erri de Luca, que é uma paulada, lindo mesmo, mas me distraí, entre uma confissão e outra, mas acabei me divertindo um pouco, e fica por isso mesmo.
Ah, o Tarcisio parece que vai botar Estuário para vender no site da Livro Rápido (www.livrorapido.com.br). Só acredito vendo.
sábado, 8 de julho de 2006
Perambulações
Saio pela Conde da Boa Vista debaixo de uma chuva desesperada, cada pingo arranca um pedaço do asfalto. Acompanha-me uma música de churrascaria, o tradicional órgão, no mesmo compasso da noite que me atrai. Vejo a decadência desse bares fora do circuito. A decadência me interessa muito mais que o luxo. Lá pelas tantas, duas putas, uma com os peitos já sugados por seus muitos homens, dançam agarradas. Começa a tocar Bartô Galeno. Corpos cambaleiam, cabeças hesitam. Bêbados gritam “ó meu amado/por que brigamos? Ó minha amada/Não posso mais viver assim/perto de ti”.
O solitário sempre me interessa. A solidão me interessa mais que a decadência. Sentado, diante do copo de Vermout, ele, o mais solitário da noite, pensa em algo. O olhar está voltado para algum ponto vazio. A música embebeda o tom da canção, e logo todos estão altos, nesta sexta-feira de ruas e corpos encharcados. “Volta meu amor/ Fica comigo, só mais uma vez”, geme o órgão, com o teclado imprestável. A mesma balada serve para todas as músicas, todos os sentimentos.
A chuva para. A Conde da Boa Vista está coberta por um espelho doce e recente, a água reflete luzes apressadas, de carros que chegam. Ônibus se acotovelam, à procura de um lugar na noite, ainda intranqüila. Não há elegância em nada que vejo, mas não há deselegância. Há somente a vida, que salta, que se desdobra, que multiplica seu viço e sua incerteza. São os homens e mulheres que fazem o Recife ser o que é. Uma cidade que pulsa ferida, calcinada pela própria existência.
Há algo de frágil neste bar onde estou. O álcool ilumina desesperos, acalma covardes, refaz a esperança dos moribundos, que tateiam seus nacos de vida. A fragilidade da existência que é apenas um toque de bengalas nos abismos das mesas e cadeiras.
Falta um bêbado que dance sozinho. Sempre, em algum lugar decadente, há um bêbado que dança sozinho. Sempre há um bêbado que chora. Há bêbados que contam toda sua vida em 15 segundos. É necessário ouvi-los. É necessário emprestar ouvidos a esses que querem apenas nos emprestar por alguns segundos suas próprias dores. O desdém é um pecado irrecuperável. Eu mandaria para o inferno quem escutasse minhas dores com um olhar evasivo. Seria capaz de matar, se, ao final da minha história de amor, alguém dissesse: “eu sei o que é isso, já passei por isso”. Mataria a amizade, creio, o maior dos crimes.
Não. O que o homem quer é sempre salvação. E salvação não vem do passado. Para salvar-se, é necessário deixar que a ciranda do amor e da morte circulem no mesmo coração. Querer salvar-se é o desejo mais nobre de qualquer desesperado.
Me identifico com esses que não têm para onde ir, e se forem, não ficarão muito tempo. Com esses que confessam fraquezas e fracassos. Com essa estranha humanidade que a noite faz aflorar, feita de álcool, sorrisos, lágrimas, palavras entorpecidas e um breve cruzamento de vida e morte, passageiros de uma agonia precoce e antiga.
O solitário sempre me interessa. A solidão me interessa mais que a decadência. Sentado, diante do copo de Vermout, ele, o mais solitário da noite, pensa em algo. O olhar está voltado para algum ponto vazio. A música embebeda o tom da canção, e logo todos estão altos, nesta sexta-feira de ruas e corpos encharcados. “Volta meu amor/ Fica comigo, só mais uma vez”, geme o órgão, com o teclado imprestável. A mesma balada serve para todas as músicas, todos os sentimentos.
A chuva para. A Conde da Boa Vista está coberta por um espelho doce e recente, a água reflete luzes apressadas, de carros que chegam. Ônibus se acotovelam, à procura de um lugar na noite, ainda intranqüila. Não há elegância em nada que vejo, mas não há deselegância. Há somente a vida, que salta, que se desdobra, que multiplica seu viço e sua incerteza. São os homens e mulheres que fazem o Recife ser o que é. Uma cidade que pulsa ferida, calcinada pela própria existência.
Há algo de frágil neste bar onde estou. O álcool ilumina desesperos, acalma covardes, refaz a esperança dos moribundos, que tateiam seus nacos de vida. A fragilidade da existência que é apenas um toque de bengalas nos abismos das mesas e cadeiras.
Falta um bêbado que dance sozinho. Sempre, em algum lugar decadente, há um bêbado que dança sozinho. Sempre há um bêbado que chora. Há bêbados que contam toda sua vida em 15 segundos. É necessário ouvi-los. É necessário emprestar ouvidos a esses que querem apenas nos emprestar por alguns segundos suas próprias dores. O desdém é um pecado irrecuperável. Eu mandaria para o inferno quem escutasse minhas dores com um olhar evasivo. Seria capaz de matar, se, ao final da minha história de amor, alguém dissesse: “eu sei o que é isso, já passei por isso”. Mataria a amizade, creio, o maior dos crimes.
Não. O que o homem quer é sempre salvação. E salvação não vem do passado. Para salvar-se, é necessário deixar que a ciranda do amor e da morte circulem no mesmo coração. Querer salvar-se é o desejo mais nobre de qualquer desesperado.
Me identifico com esses que não têm para onde ir, e se forem, não ficarão muito tempo. Com esses que confessam fraquezas e fracassos. Com essa estranha humanidade que a noite faz aflorar, feita de álcool, sorrisos, lágrimas, palavras entorpecidas e um breve cruzamento de vida e morte, passageiros de uma agonia precoce e antiga.
quarta-feira, 5 de julho de 2006
Lembrancinhas
Tinha acabado de chegar ao Recife, depois de seis anos morando em São Paulo. Era julho de 2.000, estava com 31 anos, novinho em folha, por assim dizer. Lembro que aluguei uma pequeníssima casa, na Rua dos Arcos, e a mudança estava a caminho. Então encontrei agora há pouco, neste eterno trânsito entre duas Cidades (Cabo e Recife), um velho caderno de anotações, que não chega a ser um diário, mas esboços de crônicas jamais escritas, poemas nunca publicados, pensamentos soltos como folhas em meio aos ventos e vendavais.
Me veio a imagem de um homem bêbado, em cima do telhado, chorando pela morte de sua mulher. Esse homem eu conheci de fato, e há algo de mais dramático nisso tudo, porque a gente chora em todo canto, quando dói demais. Buscar o telhado parece uma tentativa de se aproximar dos deuses e o desejo de afastamento do mundo, onde estão os homens. Não vai passar um amigo em cima do telhado, a qualquer momento, e perguntar “ei rapaz, por que você está chorando?” Mas a cena está lá, registrada, por algum motivo que não lembro.
Está lá, também no caderno, Seu Heleno, que morava na casa de Luzilá, em uma casinha mais recôndita. Era um gentleman, quando não bebia. Quando tomava suas muitas garapas, ficava mamadinho e passava a falar muito. Era um bêbado que conversava com as paredes, as plantas, os animais, o vento. Em sua santa sabedoria, falava muito pouco com gente. Um dia, cheguei para visitar Luzilá e ele começou a falar comigo, em “Cachaçanês”, o idioma da cachaça. Fiquei mole de tanto rir.
Certa vez, Luzilá arranjou dinheiro para Seu Heleno comprar a chapa. “Ele comprou a de cima, bebeu a de baixo”, me contou Luzilá. E era engraçado ver aquele homem falar em cachaçanês, com os dentes superiores que não encontravam nunca os inferiores.
Alguém me emprestou uma rede para a primeira noite na casa vazia, não sei quem foi. Quando deitei, senti um perfume que se misturava ao mofo. A rede certamente esteve guardada durante muito tempo, até que chegou o visitante inesperado, o amigo que pediu uma rede. Ocorreu à pessoa colocar perfume, para aplacar o mofo. O nome disso é delicadeza.
Seu Manuel, vendedor de Guaiamum. Sobre ele, registrei apenas o seguinte: “”trata-se de um homem que gosta muito de conversar”. Ele morreu há alguns meses, vítima de um choque elétrico absurdo. Morreu e conversamos muito pouco.
Itamar, o cachorro da vizinha, uma velhinha dessas que adoro conversar. Foi a filha quem o batizou, o cachorro, claro, de Itamar. “Meus cachorros têm todos nomes mais simples. É Champanhe, Veludo, Piaba, Corcel”, diz a velhinha. Depois que saí, escutei ela dar um berro que sacudiu o bairo: “Itamar!”
No reencontro com os amigo, estava uma moça muito calada. Era tão calada, que não lembro de uma frase, das 9h às 12h, quando ficamos conversando. A única frase que ela disse, a certa altura do campeonato, foi “aqui tem uma cioba muito boa”. Diria que ela era superlotada de silêncio.
“Acho que vou dobrar. A gente não dobra trabalhando? Vou dobrar bebendo”, diz um sujeito no Mercado de Casa Amarela, e só faço tomar notas.
Minha profissão é esta: tomar notas.
Estava cuidando de um jardim, ao lado da casa nova, quando passou a velhinha de Itamar, o cão já citado. Ela me olhou silenciosa, ficou quieta, vendo a movimentação toda para arrancar mato e plantas umas belezas poucas, mas necessárias. Ficou em mais silêncio ainda, até que disse: “ Agora está morando gente aqui”. Tradução simultânea: “também gosto de coisas bonitas”. Sorri e ela emendou:
“Vou chamar você de meu filho”.
Chico me falou de sua separação. A mulher estava indo morar com outro sujeito, abandonando-o mesmo de verdade.
“Quando estiver passando fome, venha que eu lhe dou de comer”, disse ele para a mulher, antes de ela ir embora.
Estava chovendo muito, naquele julho de 2000, o Recife parecia Macondo. Estava na casa de Luzilá, mais uma vez, e conversávamos sobre chuvas e essas coisas molhadas. Ela Luzilá, contou que um ano, estava muito triste com um monte de goteiras por toda a casa. “Estava chateada mesmo”, disse, até que veio uma tromba d’água, e poucas horas depois, sua bela casinha estava quase submersa, com quase dois metros de água. Era a enchente.
Pelo menos ela não tinha mais a chateação das goteiras.
Bem, vou encerrando por aqui. Alguém nessa casa tem que trabalhar.
Me veio a imagem de um homem bêbado, em cima do telhado, chorando pela morte de sua mulher. Esse homem eu conheci de fato, e há algo de mais dramático nisso tudo, porque a gente chora em todo canto, quando dói demais. Buscar o telhado parece uma tentativa de se aproximar dos deuses e o desejo de afastamento do mundo, onde estão os homens. Não vai passar um amigo em cima do telhado, a qualquer momento, e perguntar “ei rapaz, por que você está chorando?” Mas a cena está lá, registrada, por algum motivo que não lembro.
Está lá, também no caderno, Seu Heleno, que morava na casa de Luzilá, em uma casinha mais recôndita. Era um gentleman, quando não bebia. Quando tomava suas muitas garapas, ficava mamadinho e passava a falar muito. Era um bêbado que conversava com as paredes, as plantas, os animais, o vento. Em sua santa sabedoria, falava muito pouco com gente. Um dia, cheguei para visitar Luzilá e ele começou a falar comigo, em “Cachaçanês”, o idioma da cachaça. Fiquei mole de tanto rir.
Certa vez, Luzilá arranjou dinheiro para Seu Heleno comprar a chapa. “Ele comprou a de cima, bebeu a de baixo”, me contou Luzilá. E era engraçado ver aquele homem falar em cachaçanês, com os dentes superiores que não encontravam nunca os inferiores.
Alguém me emprestou uma rede para a primeira noite na casa vazia, não sei quem foi. Quando deitei, senti um perfume que se misturava ao mofo. A rede certamente esteve guardada durante muito tempo, até que chegou o visitante inesperado, o amigo que pediu uma rede. Ocorreu à pessoa colocar perfume, para aplacar o mofo. O nome disso é delicadeza.
Seu Manuel, vendedor de Guaiamum. Sobre ele, registrei apenas o seguinte: “”trata-se de um homem que gosta muito de conversar”. Ele morreu há alguns meses, vítima de um choque elétrico absurdo. Morreu e conversamos muito pouco.
Itamar, o cachorro da vizinha, uma velhinha dessas que adoro conversar. Foi a filha quem o batizou, o cachorro, claro, de Itamar. “Meus cachorros têm todos nomes mais simples. É Champanhe, Veludo, Piaba, Corcel”, diz a velhinha. Depois que saí, escutei ela dar um berro que sacudiu o bairo: “Itamar!”
No reencontro com os amigo, estava uma moça muito calada. Era tão calada, que não lembro de uma frase, das 9h às 12h, quando ficamos conversando. A única frase que ela disse, a certa altura do campeonato, foi “aqui tem uma cioba muito boa”. Diria que ela era superlotada de silêncio.
“Acho que vou dobrar. A gente não dobra trabalhando? Vou dobrar bebendo”, diz um sujeito no Mercado de Casa Amarela, e só faço tomar notas.
Minha profissão é esta: tomar notas.
Estava cuidando de um jardim, ao lado da casa nova, quando passou a velhinha de Itamar, o cão já citado. Ela me olhou silenciosa, ficou quieta, vendo a movimentação toda para arrancar mato e plantas umas belezas poucas, mas necessárias. Ficou em mais silêncio ainda, até que disse: “ Agora está morando gente aqui”. Tradução simultânea: “também gosto de coisas bonitas”. Sorri e ela emendou:
“Vou chamar você de meu filho”.
Chico me falou de sua separação. A mulher estava indo morar com outro sujeito, abandonando-o mesmo de verdade.
“Quando estiver passando fome, venha que eu lhe dou de comer”, disse ele para a mulher, antes de ela ir embora.
Estava chovendo muito, naquele julho de 2000, o Recife parecia Macondo. Estava na casa de Luzilá, mais uma vez, e conversávamos sobre chuvas e essas coisas molhadas. Ela Luzilá, contou que um ano, estava muito triste com um monte de goteiras por toda a casa. “Estava chateada mesmo”, disse, até que veio uma tromba d’água, e poucas horas depois, sua bela casinha estava quase submersa, com quase dois metros de água. Era a enchente.
Pelo menos ela não tinha mais a chateação das goteiras.
Bem, vou encerrando por aqui. Alguém nessa casa tem que trabalhar.
segunda-feira, 3 de julho de 2006
Crônica de uma derrota anunciada
Tem coisas que eu faço e depois fico me esculhambando em praça pública. No dia do jogo da seleçãozinha do Parreira contra a Françona, fiquei tão concentrado assistindo o Portugal do Felipão detonar a Inglaterra Futebol de Regatas, que consegui uma proeza existencial-futebolística: às 15h, eu estava dentro do ônibus do Cabo, com destino ao Recife. Vários amigos me esperavam, desde cedo, os churrascos comendo no centro, enquanto o otário aqui esperava o motorista dar a partida.
Não vou contar a viagem, porque teve de tudo. Gente com corneta, mulheres cheias de sacolas (o que diabo as mulheres fazem com um monte de sacolas, em dia de jogo decisivo da seleção?) O fato principal do dia foi a chegada à avenida Dantas Barreto pontualmente às 16h, quando estava começando o jogo. E agora? Onde assistir ao jogo?
Em casos de indecisão, acho melhor seguir a intuição. Melhor, a multidão. Acabei no Pátio de São Pedro, onde uma multidão assistia a pelada num telão gigantesco. É por aqui mesmo, pensei, e comecei a bebericar no Buraco do Sargento. Como não tinha ninguém para ficar comentando comigo, paguei a cerva e dei o fora. Num outro boteco, mais decadente, descolei uma mesinha, sentei muito contente, e só depois do primeiro gole, reparei que a imagem mostrava 44 jogadores em campo. Fiquei por ali um tempinho, mas aos 33 minutos do primeiro tempo, eu já estava gritando a plenos pulmões que o Parreira tinha que mudar o time. Infelizmente, ele não me escutou.
No intervalo, dei uma volta pelo Pátio. Começou uma música baiana, e o povão tome a dançar e beber. Ao meu lado, um sujeito começou a dançar, imitando uma estripe tease, depois subiu na cadeira. O PM ao lado, comentou comigo:
"Esse é cem por cento frango".
Logo apareceu outro, rebolando ainda mais.
"Esse aí é duzentos por cento frango", completou o PM.
Quando aqueles pilantras voltaram para o segundo tempo, eu não acreditei. O treinador não mexeu no time!
"Ele vai esperar a gente levar o primeiro gol, para mudar", vaticinei.
Mudei de bar novamente, para dar mais sorte. Em pouco tempo, encontrei os meus colegas de infortúnio.
"Vai, caralho!"
"Cadê o meio de campo?"
"Cafu, doente!"
Faltando dez minutos, achei que estava dando azar e fui para uma barraquinha fuleiríssima na Dantas Barreto, tomar uma Schin gelada. Ao lado, numa mesinha simples, os caneiros. Fiquei ao lado, mas eles insistiram.
"Vem pra cá, rapaz! Vai ver o desastre sozinho?" Eu fui. Comemos macaxeira com guizado e tomei umas lapadas.
"Sabe o que é isso? Síndrome de 98. Essa Copa vai ser de Portugal", me disse um deles, que repetia o tempo inteiro: "Estou bêbado".
Já perto do finalzinho, com a desilusão rondando todos, um dos meus amigos soltou essa:
"Ôx, o Santa Cruz tá jogando melhor".
Aparece a cara do Parreira, na TV, e ele emenda:
"Sai, cara de gia!" O outro arremata:
"É importante dizer que eu perdi dez cervejas!"
O juiz apita o final do jogo, a Copa acabou para o Brasil. Uma multidão começa a sair do Pátio, passando pela Dantas Barreto. Uma multidão de tristes, chateados, alguns inconsoláveis. Mas há mais raiva que tristeza. O time não jogou nada, e isso ajuda a abafar qualquer sofrimento. Ruim é perder jogando um bolão, com um vacilo no final.
Ao meu lado, o camarada que disse estar muito bêbado, me olha atentamente e confessa:
"Tô triste, amigo. Tô muito triste". E começa a chorar.
Como chorei todas as minhas lágrimas futebolísticas com a Seleção de 82, fiquei olhando o desamparo do amigo, depois tomei mais umas e fui embora.
Aqui vai uma confissão: o último estadual, quando o Santinha perdeu nos pênaltis, me doeu muito mais.
E la nave va.
Não vou contar a viagem, porque teve de tudo. Gente com corneta, mulheres cheias de sacolas (o que diabo as mulheres fazem com um monte de sacolas, em dia de jogo decisivo da seleção?) O fato principal do dia foi a chegada à avenida Dantas Barreto pontualmente às 16h, quando estava começando o jogo. E agora? Onde assistir ao jogo?
Em casos de indecisão, acho melhor seguir a intuição. Melhor, a multidão. Acabei no Pátio de São Pedro, onde uma multidão assistia a pelada num telão gigantesco. É por aqui mesmo, pensei, e comecei a bebericar no Buraco do Sargento. Como não tinha ninguém para ficar comentando comigo, paguei a cerva e dei o fora. Num outro boteco, mais decadente, descolei uma mesinha, sentei muito contente, e só depois do primeiro gole, reparei que a imagem mostrava 44 jogadores em campo. Fiquei por ali um tempinho, mas aos 33 minutos do primeiro tempo, eu já estava gritando a plenos pulmões que o Parreira tinha que mudar o time. Infelizmente, ele não me escutou.
No intervalo, dei uma volta pelo Pátio. Começou uma música baiana, e o povão tome a dançar e beber. Ao meu lado, um sujeito começou a dançar, imitando uma estripe tease, depois subiu na cadeira. O PM ao lado, comentou comigo:
"Esse é cem por cento frango".
Logo apareceu outro, rebolando ainda mais.
"Esse aí é duzentos por cento frango", completou o PM.
Quando aqueles pilantras voltaram para o segundo tempo, eu não acreditei. O treinador não mexeu no time!
"Ele vai esperar a gente levar o primeiro gol, para mudar", vaticinei.
Mudei de bar novamente, para dar mais sorte. Em pouco tempo, encontrei os meus colegas de infortúnio.
"Vai, caralho!"
"Cadê o meio de campo?"
"Cafu, doente!"
Faltando dez minutos, achei que estava dando azar e fui para uma barraquinha fuleiríssima na Dantas Barreto, tomar uma Schin gelada. Ao lado, numa mesinha simples, os caneiros. Fiquei ao lado, mas eles insistiram.
"Vem pra cá, rapaz! Vai ver o desastre sozinho?" Eu fui. Comemos macaxeira com guizado e tomei umas lapadas.
"Sabe o que é isso? Síndrome de 98. Essa Copa vai ser de Portugal", me disse um deles, que repetia o tempo inteiro: "Estou bêbado".
Já perto do finalzinho, com a desilusão rondando todos, um dos meus amigos soltou essa:
"Ôx, o Santa Cruz tá jogando melhor".
Aparece a cara do Parreira, na TV, e ele emenda:
"Sai, cara de gia!" O outro arremata:
"É importante dizer que eu perdi dez cervejas!"
O juiz apita o final do jogo, a Copa acabou para o Brasil. Uma multidão começa a sair do Pátio, passando pela Dantas Barreto. Uma multidão de tristes, chateados, alguns inconsoláveis. Mas há mais raiva que tristeza. O time não jogou nada, e isso ajuda a abafar qualquer sofrimento. Ruim é perder jogando um bolão, com um vacilo no final.
Ao meu lado, o camarada que disse estar muito bêbado, me olha atentamente e confessa:
"Tô triste, amigo. Tô muito triste". E começa a chorar.
Como chorei todas as minhas lágrimas futebolísticas com a Seleção de 82, fiquei olhando o desamparo do amigo, depois tomei mais umas e fui embora.
Aqui vai uma confissão: o último estadual, quando o Santinha perdeu nos pênaltis, me doeu muito mais.
E la nave va.
Assinar:
Postagens (Atom)